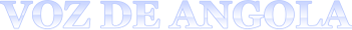A história é digna de um guião de Hollywood, candidato a um Óscar para melhor argumento. Mesmo não sendo assim tão diferente de tantas outras histórias que já ouvimos por aí e outras tantas de que nunca ouvimos falar mas que existem. Saltemos os primeiros seis anos de vida de Júlio Leitão e comecemos, por aqui. 1976. Guerra civil em Angola. Milhares. Milhões, tiveram que fazer-se à estrada e fugir.
Foi o que aconteceu à família Leitão. Fugiram, primeiro a pé para a Zâmbia, depois para Portugal, um país pouco recomendável para luso-angolanos de tez negra naquela altura. "Foi muito contraditório porque nós chegámos numa fase em que Portugal vivia o choque do desemprego, das frustrações e criou um meio muito racista naquela fase", recorda Júlio, hoje com 51 anos. O sonho de menino começou pelo futebol. Ainda andou aos chutos na bola no Carcavelos durante uns anos até ao dia em que decidiu inscrever-se no conservatório. Na adolescência, Júlio Leitão já fazia publicidade e participava em programas de televisão. Apesar de ser angolano. Apesar de ser negro.
1,2,3... dar a volta à vida de vez
Aos 16 anos, Júlio Leitão era dançarino da primeira série do famoso programa da RTP 1,2,3, apresentado por Carlos Cruz. A vida não lhe corria mal mas era impossível não sentir o handicap da cor da pele. Até ao dia em que viu entrar nos estúdios Debbie Allen, a famosa atriz norte americana do Fame ou, mais recentemente, da Anatomia de Grey. Naquela semana ela era a convidada de um dos programas de maior sucesso na televisão portuguesa. "Ela foi lá dar uma entrevista e ficou toda a gente maravilhada com ela. De repente fez-se luz. Ela é negra, como eu, mas é estrangeira e é famosa. Em Portugal eu nunca conseguiria ir a lado nenhum", recorda Júlio que, ato contínuo, decidiu pegar nas poupanças que tinha e "comprei um bilhete de 27 contos para Nova Iorque. Só de ida. Nem sabia onde ia ficar".
O país das oportunidades
Em Nova Iorque, Júlio fez tudo e de tudo para poder alcançar o sonho. Dançar. Foi por isso que deixou tudo para trás, família, amigos, uma carreira de relativo sucesso em Portugal. Para chegar mais longe e mais alto, para ultrapassar o preconceito da cor da pele. "Quando fui trabalhar com a Maggie Black (uma conceituada professora de ballet em Nova Iorque nos anos 70 e 80), trabalhava ao mesmo tempo num hotel a carregar malas. Trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã. Ia às aulas de dança das 9 às 4 da tarde e depois dormia até às 11, quando voltava a trabalhar no hotel outra vez", relata Júlio de sorriso orgulhoso nos lábios.
A dança era o alimento diário, mas o ballet, a dança clássica, não era, nunca foi, o que mais deixava Júlio Leitão realizado. África e tudo o que este continente representa, falou sempre mais alto. O calor, a cor, os ritmos do continente africano corriam-lhe no sangue, como se de uma doença se tratasse. Júlio aprendeu com os melhores, trabalhou com os incríveis e nunca se deixou desmotivar pelos contratempos. No mais improvável dos dias, o mundo de Júlio haveria de mudar novamente. Para nunca mais ser o mesmo.
O luso angolano, que já trabalhava com crianças num projeto em Nova Iorque, recebeu um dia um convite inesperado. Um representante das Nações Unidas convidou-o para preparar um espetáculo que representasse o continente africano. Júlio sugeriu trabalhar com crianças, mas a ideia não foi propriamente bem-recebida. Insistiu e conseguiu levar a dele avante. O balanço foi claramente positivo quando "duas mil pessoas nos aplaudiram de pé", conta. Foi nesse dia que nasceu, pelo menos na cabeça de Júlio, o Batoto Yetu, uma companhia de dança, formada por crianças e jovens dos 2 aos 20 anos. "A maior parte das crianças vêm de famílias pobres. Mas o que me preocupa mais é que nós negros somos uma comunidade muito desprivilegiada e continuamos a ter os mesmos problemas" desabafa Júlio, enquanto pega numa lata de cola e vai construindo a sua nova escultura.
A conversa com Júlio vai-se desfiando no seu apartamento em Brooklyn, para onde se mudou há uns anos, farto que estava de viver em Manhattan. Júlio está a preparar a sua próxima exposição. Um conjunto de esculturas cuja venda servirá para ajudar a luta contra o cancro. Pés descalços - toda a gente se descalça ao entrar em casa, incluindo eu - calças de fato de treino largas, t-shirt gasta do uso. Eis Júlio Leitão, um artista angolano que ganhou fama nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo. Gosta de máscaras "porque representam o verdadeiro espírito africano" mas agora são as esculturas que lhe ocupam a maior parte do tempo. É também escritor e empresário. Montou um negócio de malas, a Coolshield e não pensa ficar por aqui. Com 51 anos ainda há muito para fazer.
Trabalhar com crianças é mais do que uma paixão. É um sentido de dever. "Acho um bocado estúpido pensar que já não temos que lutar. Para mim trabalhar com crianças é uma forma de fazer com que a próxima geração não seja tão má" explica Júlio, o homem que está plenamente convencido que o racismo está muito longe de ser um problema ultrapassado. "Este fenómeno com Donal Trump mostra que we are living to fast (estamos a viver depressa demais). Nós vivemos a ignorar os problemas que continuamos a ter" diz com voz indignada. A eleição do novo presidente americano é a prova evidente, para Júlio Simões, que a sociedade, americana, e não só, continua cheia de preconceitos e ainda está longe de ser igualitária.
O caminho para uma sociedade mais justa, mais igual, menos preconceituosa, faz-se caminhando. E Júlio acredita convictamente que é salvando as crianças que se salva o mundo.
Quanto a Júlio, cumpriu na íntegra a promessa do sonho americano. Isso e muito mais do que algum dia sonhou. "Cumpri 70% mais do que alguma vez achei que ia conseguir alcançar".
DN